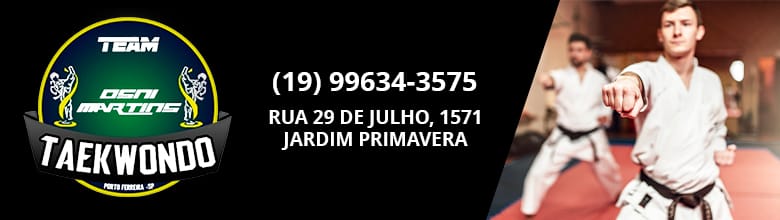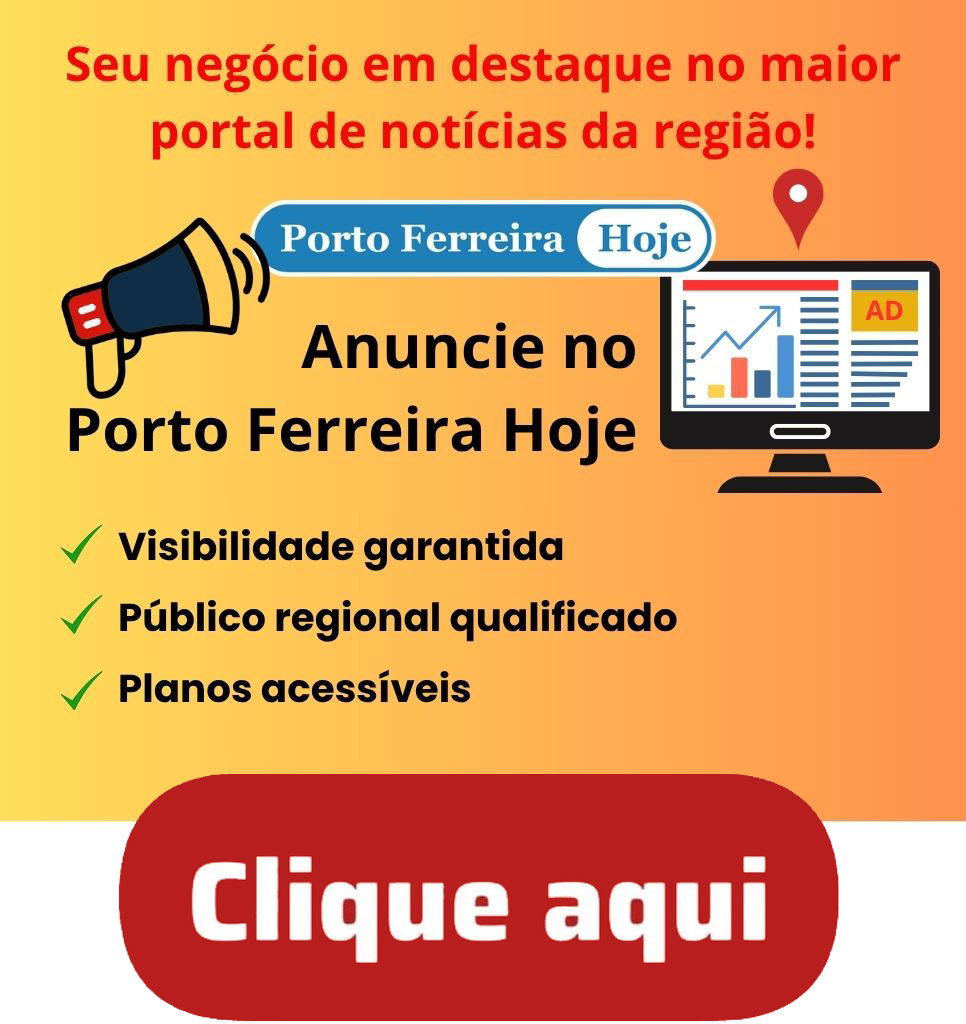Documentos inéditos revelam monitoramento intenso de opositores durante a "abertura democrática". Historiadores contestam ideia de repressão mais branda no período e apontam tentativa de garantir impunidade de militares.
Abertura democrática sob vigília
Os arquivos mostram que a ditadura militar acompanhou de perto congressos, reuniões e até cultos ecumênicos com a participação de ativistas do Comitê Brasileiro de Anistia (CBA) e do Movimento Feminino pela Anistia (MFPA). O monitoramento se estendeu aos exilados políticos que organizavam atos em favor da anistia no Brasil em outros países.
Na segunda metade dos anos 1970, havia um tensionamento entre os projetos de abertura política do regime, no poder desde o golpe de 1964. Enquanto os militares pregavam a abertura "lenta, gradual e segura", o CBA assumiu o protagonismo da luta nacional pela anistia "ampla, geral e irrestrita".
"A luta pela anistia rompeu com o medo da ditadura", afirma o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, fundador e ex-presidente do CBA. "As pessoas começaram a ir para as ruas, enfrentar de fato o regime militar. O movimento reuniu diferentes setores democráticos, da Igreja Católica e da sociedade civil num grito de basta contra a tortura, o desaparecimento e o arbítrio", avalia.
Impunidade dos militares
Apesar da pressão exercida pelos movimentos sociais, o governo conseguiu aprovar a sua versão da Lei da Anistia no Congresso, por quatro votos de diferença. Alvo de questionamentos até os dias de hoje, inclusive em ações no STF, o texto equiparou os atos cometidos por presos políticos com os crimes de Estado perpretados pelos agentes da ditadura.
Dessa forma, a Lei da Anistia libertou os presos políticos, mas garantiu a impunidade sobre as violações de direitos humanos praticadas no período. Diferentemente da luta armada, a mobilização em torno da anistia era pacífica, e justamente por essa razão conseguiu aglutinar diferentes camadas da sociedade civil organizada.
Período brando?
Autora do livro Os vigilantes da ordem, resultado de seu trabalho de mestrado pela Universidade de São Paulo (USP), a historiadora Pâmela de Almeida Resende destaca como a vigilância intensa sobre ativistas e organizações em prol da anistia confronta a visão de que os últimos anos da ditadura teriam sido "brandos" no campo da repressão política.
"Houve uma cristalização na opinião pública de uma imagem dos presidentes da abertura como moderados, responsáveis pela distensão do Brasil para o mundo democrático. Esse tipo de visão cai em uma periodização demarcada da violência, restrita aos 'anos de chumbo'", avalia a historiadora.
Almeida Resende recorda que, ao longo dos anos 1970, e sobretudo após a posse do presidente Ernesto Geisel em 1975, os números oficiais de mortos caem progressivamente, enquanto aumentam os de desaparecidos.
"É um jeito sofisticado de abordar a repressão, que causa menos impacto do que falar em mortes. A violência acontece de maneira diferente ao longo dos 21 anos de ditadura, mas não deixa de acontecer. Outro presidente apontado como moderado é o Castelo Branco, responsável por atos institucionais que cassaram mandatos e direitos políticos", lembra.
Veja mais acessando o link
Fonte: Deutsche Welle