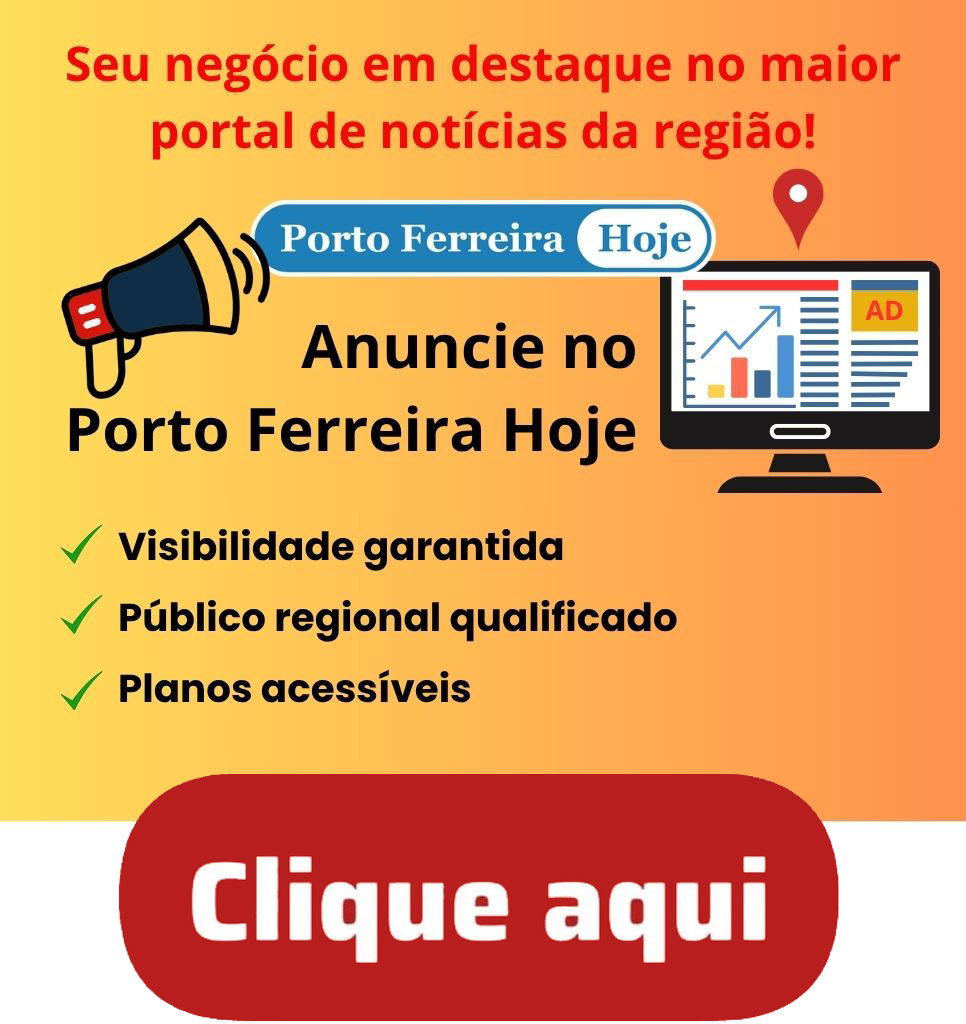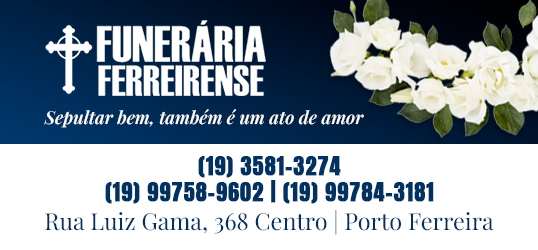Os livros e os jornais propagam a imagem do Brasil como um país de economia agroexportadora dentro de um processo de “capitalismo tardio”. De fato, em termos gerais, o Brasil passou pelo ciclo da cana de açúcar no Nordeste, entre os séculos XVI e XVII, e o ciclo do ouro, principalmente em Minas Gerais, no século XVIII. Ambos os produtos, guardadas as particularidades de cada caso, eram enviados para o mercado externo e utilizavam a mão-de-obra escrava. No primeiro caso, o cultivo ocorria em latifúndios e, no segundo, realizava-se exploração das lavras. Vale salientar que existiam economias secundárias, como a produção de mulas (meio de transporte do período) e a do charque (carne de sol para consumo).
Com o desenvolvimento do ciclo do café no Sudeste, em meados do século XIX, a situação começou a mudar. No final do século XIX, com a abolição da escravatura e a introdução do trabalho assalariado com a mão-de-obra dos imigrantes, foi criado, efetivamente, um mercado interno consumidor, possibilitando o desenvolvimento industrial para atender uma demanda interna.
Assim, no início do século XX surgiram moinhos, fábricas de tecidos, de tijolos, frigoríficos, cerâmicas, entre outros, dando o início ao processo de industrialização brasileiro, chamado de “industrialização tardia”, pois, estava 200 anos atrasados em relação à Europa e aos Estados Unidos, que dominavam o mercado exportador. Na década de 30, este processo industrializante se intensificou com a intervenção do Estado na economia, sob o governo de Getúlio Vargas, criando empresas estatais, sindicatos, legislação trabalhista e favorecendo o desenvolvimento de setores da economia pouco explorados. Na década de 30, 60% do produto interno bruto (PIB) era gerado pela agricultura e 80% da população vivia no campo e do campo.
Em 2018, a agricultura correspondeu a cerca de 20% do PIB brasileiro e apenas 15% da população ainda mora no campo, demonstrando o aumento da importância da produção industrial para o Brasil e a provável mecanização da área rural.
A AGRICULTURA BRASILEIRA A PARTIR DA DÉCADA DE 60
Segundo dados da ANDA (Associação Nacional para Difusão de Adubos) em 1960 apenas 30% das áreas cultivadas usavam adubação com uma média de 18 quilos por hectare. Embora o Brasil estivesse passando por um processo de industrialização tardio, a agricultura era ineficiente, cultivando muitos alqueires com baixa produtividade. Era preciso convencer os agricultores do custo-benefício dos fertilizantes.
Assim, 14 empresas se juntaram em 1967 para criar e sustentar financeiramente a Associação Nacional de Adubos (ANDA). Em 1969 foram instalados 500 campos de demonstrações de resultados dos adubos em lavouras de milho, arroz, feijão e algodão no sul de Goiás e Minas Gerais.
Em parceria com a FAO (Organizações Unidas para a Agricultura e Alimentação), no ano de 1975 a ANDA possuía 3 mil ensaios e campos de demonstração pelo país. Paralelamente, o Governo Federal instituiu políticas públicas para aumentar a produtividade, com investimentos públicos em pesquisa e oferta de crédito rural.
A “SEMENTE PRETA” NA FAZENDA RIO CORRENTE
Em 1958, Assis Chateaubriand foi nomeado embaixador do Brasil em Londres, durante o Governo de Juscelino Kubitschek. Em junho daquele ano, em missão oficial, Chatô visitou a multinacional Bayer, em Leverkusen na Alemanha, em busca de inovações químicas para a proteção do algodoeiro. Na prática, o inseticida “Metasystox” só protegia o arbusto depois que ele entrava na fase de desenvolvimento. Buscava-se um produto que protegesse a semente, garantido um ciclo produtivo mais eficiente.
Foi apresentado pelos representantes da Bayer ao Disyston, espécie de pó preto que envolvia a semente do algodão sem danificá-la, imunizando o algodoeiro desde as raízes por um período de 70 dias, combatendo a “broca” e o “pulgão”.
Chateaubriand, o rei do algodão de Porto Ferreira, experimentou a semente preta na Fazenda Rio Corrente. A produtividade foi de 420 arrobas do algodão em pluma, do tipo 4, por dois hectares e meio, 168 arrobas por hectare, média superior a dos Estados Unidos da América, onde os métodos de cultura e defesa da praga são os mais adiantados do mundo.
Assim, ficou evidente que esforços particulares para melhorar a produtividade da agricultura brasileira foram aplicados na Fazenda Rio Corrente concomitante as ações do governo brasileiro que ocorreram no mesmo período, transformando a economia agroexportadora nacional no celeiro do mundo.
* Por Renan Arnoni – Historiador (UNESP – Franca); Pós-graduação em Gestão Cultural; Especialização em Análise Comportamental, Programação Neolinguística e Constelação Sistêmica Familiar; Servidor Público (Prefeitura Municipal de Porto Ferreira) e Empresário